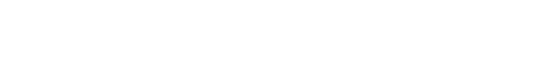O estado meditativo não é uma técnica adicional ao trabalho clínico — é uma qualidade de mente que transforma a própria natureza da escuta terapêutica.
Na prática gestáltica, a atenção plena é análoga ao que Perls chamava de awareness desobstruída: a capacidade de estar consciente do que se apresenta, momento a momento, sem manipular o fluxo da experiência. Quando o terapeuta sustenta essa qualidade de presença, o campo se autorregula e o contato ganha densidade fenomenológica.
Embora seja uma capacidade inata do ser humano, ela foi completamente depauperada no transcorrer dos anos de vida e da cultura fragmentadora, individualista, de escuta rasa e fazer obsessivo, portanto, o terapeuta precisa de treino para que essa awareness “natural” desobstruída e verdadeira possa aparecer. Ela não é uma “produção” do terapeuta, tampouco uma faculdade de foco e concentração – é uma qualidade emergente da mente treinada original, e a amplitude que o indivíduo compassivo habita pela entrega, compaixão, interesse e confiança.
Então o valor dessa mente meditante não é apenas atencional. Como diz Mark Epstein, psiquiatra e praticante budista, autor de “Terapia Zen”, “a mente que observa é a própria mente que cura” — não por compreender, mas por permitir que a experiência se revele sem resistência. Essa atitude aproxima o terapeuta do que David Brazier, no contexto do Zen e da psicoterapia budista, descreve como “presença compassiva”: um estado em que o profissional abandona o papel de intérprete e assume o de testemunha viva do sofrimento e da verdade do outro.
Nesse sentido, a meditação oferece ao terapeuta uma epistemologia da não-reação. Ela permite ver o cliente não como “alguém a ser tratado”, mas como expressão do mesmo campo de consciência em que ambos estão inseridos. A escuta deixa de ser uma coleta de informações para se tornar um espaço de revelação. Se algo pode ser “feito” a partir daí, e só a partir daí que deve ser feito.
A mente meditante também protege contra a ansiedade de desempenho terapêutico — essa tentativa sutil de “fazer algo acontecer”. Que flige tanto terapeutas quanto pacientes, aspirantes por resolução rápida, guiança constante e elucidação pra toda fala e movimento. Quando o terapeuta pratica o não-fazer, não cai na passividade, mas no estado que D. S. Rubin chama de engaged stillness: uma quietude atenta, dinâmica, capaz de conter e permitir o movimento natural do processo.
Uma mente assim, imersa em espaço, verdade e firmeza, pode ancorar uma infinidade de processos de cura simplesmente por ser assim. E, como já foi dito, deixar que isso habite o campo em que ambos estão experimentando.
Integrar meditação e clínica, portanto, não é misturar espiritualidade e psicologia, mas recuperar a inteireza da experiência humana dentro da relação terapêutica. A cura não ocorre porque o terapeuta entende mais, mas porque ambos aprendem a permanecer no mesmo silêncio lúcido de onde toda transformação real emerge.
//